Por Gustavo Foster
Em 1503, ou seja, apenas três anos após o descobrimento do Brasil e cerca de 406 anos antes da maior invenção dos irmãos Poppe, um já venerado Da Vinci recebia, em Florença, a encomenda de um retrato que o ocuparia pelos próximas três anos. Em 1506, o criador renascentista acabava seu maior feito, aquele que o marcaria para sempre. A Monalisa é, até hoje, estudada, analisada, celebrada, visitada e, principalmente, conhecida por numerosa parte da população. Há quem diga que esta não é sequer a maior obra do pintor italiano. Há quem veja nela símbolos conspiratórios. Freud considera o sorriso da modelo “sinal de atração erótica de Leonardo para com sua mãe”. Professores de Harvard estudaram e chegaram à conclusão de que “a percepção do sorriso é adquirida através de frequências visuais baixas, o que o torna visível através da visão periférica”, fato que explicaria o mistério sobre o retrato.
Quatrocentos anos depois, no mesmo Japão que se acostumaria a receber um time brasileiro em seus territórios, Akira Kurosawa apresentou ao Ocidente, em menos de uma hora e meia, o desconhecido cinema japonês. Rushomon, maior obra na vasta produção do escritor e diretor japonês, bifurca-se nos resultados e respinga suas conclusões a áreas tão distintas quanto a psicologia e o direito penal. Com técnicas do jornalismo, como apresentar o máximo de versões do fato e contrapor declarações, o filme chega a dar nome para teorias da Psicologia: o “Efeito Rashomon” aborda o caráter reconstrutivo da memória, na qual é possível que nossas lembranças não sejam realmente o que aconteceu, em sua totalidade.
Na semana passada, Magrão apresentou em casa adversária sua obra-prima, seu auge. Em um jogo que começou tenso e terminou pior, o Internacional enfrentava um adversário invicto há um não-sei-quanto de jogos, patrolando desde a metade do primeiro turno, treinado pela sensação Silas, apontado por alguns comentaristas como provável ocupante do G-4 e, por alguns lunáticos, como candidato ao título.
Mas no time colorado, estava voltando Magrão, o ambíguo volante, adorado por sua raça mas quase nunca presente nas escalações ideais. Jogou muito. Vontade, habilidade, força, importantes investidas ao ataque, velocidade na saída para os contra-ataques, ajuda fundamental a Giuliano e Bolívar, pelo lado direito, e gol, ao final, como consagração. O camisa 11 não suportava mais. Há muito tempo. Ele nunca teve fôlego para jogar mais de um tempo e meio. O ar que entrava nos pulmões após os vinte minutos do segundo tempo vinham do nada, apenas da vontade. E a arrancada para o gol é a pura vontade. Correndo enlouquecido, na chuva, batendo nos braços tatuados com os nomes dos filhos, Magrão como que comemorava a chegada ao topo da montanha. Nesse jogo, mostrou em que patamar pode chegar, mesmo que nunca mais chegue ali.
Todo título tem um momento marcante, uma imagem que simboliza, uma jogada que resume tudo. Na Libertadores, foi a bola na trave, nas costas, pra fora contra o Libertad. No Mundial, Iarley na bandeirinha de escanteio, cercado por toda a população catalã ensandecida atrás da bola, aos 43 do segundo tempo. Na Copa do Brasil, o naco de grama retirado sutilmente pelo bico da chuteira de Célio Silva, na cobrança de pênalti.
Resta saber se a arrancada de um Magrão desesperado, buscando ar no impossível, será lembrada daqui há dez, cinqüenta, cem anos.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
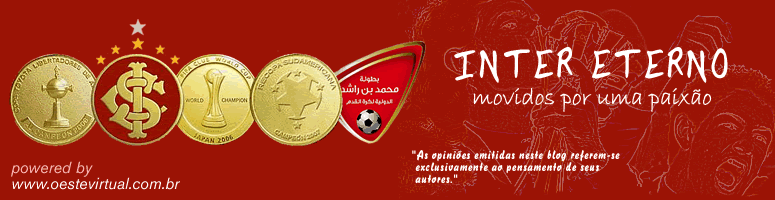
Nenhum comentário:
Postar um comentário